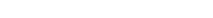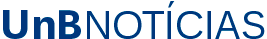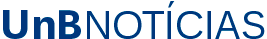Gabriel Teles Viana
O Sol de Brasília é um filme que não se pretende grandioso, mas que alcança uma grandeza silenciosa ao reunir, em sua brevidade, uma memória coletiva que atravessa décadas, territórios e cicatrizes. Trata-se de um gesto de escuta, onde vozes múltiplas — de mulheres e homens que viveram, ensinaram, enfrentaram e sonharam juntos — nos conduzem pelas entranhas de um departamento universitário que não pode ser compreendido fora de seu tempo e de sua cidade. O documentário é, antes de tudo, uma costura entre o vivido e o pensado, entre o afeto e a teoria.
Ao escutarmos os relatos dos antigos e atuais docentes do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília, não estamos diante de uma cronologia institucional ou de um balanço acadêmico. Estamos mergulhados em uma memória encarnada, feita de ruídos de passos nos corredores, de mesas divididas no bandejão, de reuniões tensas durante os anos duros da ditadura, de amizades nascidas entre o calor do cerrado e a urgência do pensamento crítico. Cada voz ali carrega um tempo, um gesto, um pertencimento.
Brasília, nesse conjunto de memórias, não é apenas uma paisagem de fundo. É matéria viva. A cidade pulsa como um organismo ambíguo, feito de promessas modernistas e desigualdades profundas, de traçados geométricos e territórios invisibilizados. Os depoimentos nos mostram que, para esses docentes, a cidade e a universidade se confundiam. Viver em Brasília era também viver a UnB — não havia separação entre o espaço do trabalho intelectual e o espaço da vida. As quadras da Asa Sul, os bares da W3, os estacionamentos poeirentos, os apartamentos compartilhados por estudantes, tudo fazia parte de uma mesma experiência de estar no mundo.
A relação entre o Departamento de Sociologia e a cidade de Brasília se dá por fricção e por cumplicidade. A cidade, com seu projeto utópico de racionalidade, oferecia um horizonte. Mas era também uma cidade cercada por exclusão, marcada desde o início por uma estrutura que separava os funcionários dos moradores do Plano Piloto, os técnicos dos gestores, os periféricos dos planejadores. O Departamento de Sociologia foi, ao longo do tempo, tensionado por essa contradição: pensar criticamente o Brasil a partir do coração de um projeto de poder.
As lembranças de repressão, de censura e de vigilância emergem com força. A UnB foi sitiada, seus docentes foram perseguidos, seus espaços de saber foram tratados como ameaças. Mas o que impressiona no documentário é que, mesmo diante desse cerco, a universidade não deixou de produzir vida. A resistência não aparece como um ato heroico, mas como algo cotidiano, feito de pequenos gestos: esconder livros, trocar ideias em voz baixa, sustentar a curiosidade mesmo sob medo. O saber, ali, era uma forma de insubordinação.
O Departamento, no entanto, não se fez apenas de enfrentamentos políticos. Ele também foi palco de disputas epistemológicas, de encontros entre tradições distintas, de construção lenta e conflituosa de uma identidade intelectual. Há, nos depoimentos, a lembrança de hegemonias metodológicas, de imposições disciplinares que não dialogavam com a realidade brasileira, de enfrentamentos internos sobre o que deveria ser ensinado, investigado, valorizado. Mas há também o relato da superação dessas barreiras — a entrada de novas correntes teóricas, a valorização de temas como o sindicalismo, o gênero, o urbano, a psicanálise.
Esses relatos não constroem uma narrativa de consenso. O que se ouve são memórias atravessadas por diferenças, por perspectivas que se tocam, se contradizem, se fortalecem. E é justamente nesse movimento que o documentário encontra sua beleza: ele não tenta unificar as vozes, mas as faz coexistir. Há algo de profundamente democrático na forma como essas memórias se entrelaçam, como se o próprio filme fosse uma continuação do espaço comum que esses sujeitos ajudaram a criar.
A experiência do Departamento de Sociologia da UnB é, nesse sentido, uma chave para compreender o Brasil. As vozes que falam no filme viveram as promessas e as fraturas da educação pública, testemunharam as reformas, os silêncios e os gritos do país. Cada memória ali registrada é também uma lente para observar as tensões nacionais: o autoritarismo persistente, o apagamento das classes populares, o racismo estrutural, a fragilidade das instituições e, ao mesmo tempo, a potência transformadora do saber compartilhado.
O Distrito Federal, com sua condição híbrida de cidade e capital, aparece como um espelho dessas contradições. Planejada para representar a nação, mas profundamente desigual em sua constituição social, Brasília abriga uma universidade que ousou, desde seu início, pensar o país para além das aparências. O Departamento de Sociologia se inseriu nesse espaço como força crítica, como lugar de formação de sujeitos que não apenas aprendem sobre o mundo, mas que desejam transformá-lo.
Há, ao longo do documentário, uma tensão delicada entre o pertencimento e o distanciamento. Os professores lembram com carinho dos anos passados, mas não idealizam o passado. Reconhecem seus erros, suas limitações, seus impasses. Há uma ética da lucidez nessas falas — uma recusa da nostalgia vazia e uma aposta no poder do testemunho. O que se transmite ali não é apenas uma história, mas uma posição diante do tempo e da responsabilidade intelectual.
A dimensão afetiva não está ausente. Pelo contrário, ela estrutura o filme. O afeto não é tratado como ornamento da memória, mas como motor da construção institucional. Os vínculos forjados nos corredores da UnB, nos debates acalorados, nas dificuldades materiais, formaram uma comunidade que resistiu não apenas ao regime político, mas também às incertezas da própria universidade pública. O afeto aqui é político, e o político é sempre afetado.
Se há um fio condutor nas vozes que compõem O Sol de Brasília, ele talvez seja o da esperança crítica. A consciência das adversidades nunca anulou o desejo de fazer da universidade um lugar de mundo. O tempo passou, os nomes mudaram, mas permanece um compromisso com o pensamento como prática viva, como encontro, como gesto que insiste em existir mesmo diante do desmonte. O sol do título é, nesse sentido, um símbolo da persistência.
A escolha de registrar essas memórias hoje tem sua razão. Em tempos de ataque à universidade pública, de tentativa de deslegitimar o pensamento social, de criminalização da crítica, olhar para trás é também uma forma de afirmar o presente. O que essas vozes nos dizem, com doçura e firmeza, é que nada disso é novo. Já estivemos cercados antes. Já tentaram nos calar antes. E seguimos aqui. Pensando. Ensinar, nesse contexto, é sempre um ato de resistência.
Ao final, não há uma conclusão, mas um convite. O filme não fecha a história do Departamento, não encena um fechamento. Pelo contrário, aponta para a continuidade. Os professores se despedem não como quem encerra um ciclo, mas como quem passa adiante algo precioso. A memória, neste filme, não é ruína — é semente. E o solo onde ela se planta continua sendo a cidade em que o impossível já foi sonhado.
O documentário é, por isso, um gesto generoso. Uma oferenda àqueles que vieram depois. Um lembrete de que a universidade pública, apesar de suas imperfeições e limites, segue sendo um dos poucos espaços onde o Brasil pode se pensar de verdade. E a sociologia, nesse cenário, não é apenas uma disciplina, mas uma forma de existir, de olhar, de cuidar. O sol continua a brilhar. Porque há quem o sustente. Porque há quem insista. Porque há quem lembre.