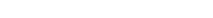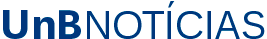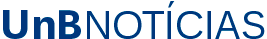Gabriel Teles Viana
A inteligência artificial adentrou silenciosamente os corredores da universidade. Primeiro, como uma curiosidade experimental — um assistente que sugeria palavras melhores, corrigia tempos verbais ou organizava sumários com precisão algorítmica. Mas bastaram alguns meses para que se tornasse algo mais: uma presença, uma força difusa que alterava o modo como se escreve, se lê, se pensa. Aquilo que parecia ser apenas uma ferramenta passou a produzir efeitos profundos na própria arquitetura da pesquisa acadêmica. Não mais apenas uma caneta refinada, mas um espelho que devolve ao pesquisador a imagem de seu próprio método, ampliada, distorcida, por vezes iluminada.
Há um encantamento inicial, quase inevitável, diante da velocidade e da versatilidade com que essas tecnologias operam. O texto que antes exigia dias de maturação estilística é agora esboçado em minutos, com coesão gramatical e lógica aceitável. A revisão bibliográfica — antiga travessia entre dezenas de PDFs, notas e cadernos rabiscados — é reduzida a comandos que rastreiam artigos, cruzam conceitos, sintetizam argumentos. A IA se torna uma espécie de bússola semântica, guiando o pesquisador por oceanos de dados com uma precisão que nem sempre está ao alcance da consciência humana. E, no entanto, é justamente aí que começa o risco: ao tornar fácil demais o processo de pesquisa, corre-se o perigo de que se torne também superficial.
A universidade, tradicionalmente, é espaço de demora, de elaboração lenta, de fricção entre ideias que não se encaixam de imediato. Quando a velocidade se impõe como virtude suprema, algo da essência do pensamento crítico pode se perder. A pressa pela eficiência ameaça corroer o intervalo fecundo da dúvida, a hesitação produtiva que leva o pesquisador a formular perguntas inéditas. A inteligência artificial, com toda a sua capacidade de fornecer respostas, pode acabar desidratando o momento em que ainda não sabemos o que perguntar.
Mas seria ingênuo ou reacionário enxergar nessas transformações apenas uma ameaça. Há um horizonte promissor nesse novo pacto entre humanos e máquinas. Nunca se teve tanto acesso à produção intelectual global. Nunca foi tão possível escrever, traduzir, comparar, cruzar autores, épocas, línguas. Para muitos que antes estavam à margem — pela língua, pela geografia, pela exclusão dos circuitos de prestígio —, as ferramentas de IA podem funcionar como pontes. Se bem usadas, abrem possibilidades para uma ciência mais inclusiva, mais conectada, mais dialógica.
A questão, talvez, não seja apenas como usar a inteligência artificial, mas como permanecer humano ao fazê-lo. Como manter o rigor, a curiosidade, o compromisso com a dúvida, mesmo quando o texto parece pronto demais. Como reconhecer que a escrita acadêmica é mais do que transmissão de conteúdo: é forma de existência, modo de lidar com o mundo, gesto político. A IA pode ajudar a redigir, mas não deve nos substituir na tarefa de escutar, interpretar, resistir.
O desafio é ético, epistemológico e estético. É preciso ensinar não só a usar a IA, mas a pensar com e contra ela. Cultivar uma crítica que não tema a tecnologia, mas também não se curve a seus encantos. Porque se o conhecimento for apenas o que uma máquina pode compilar, ele terá perdido sua potência de transformação. E a universidade terá esquecido que pensar — verdadeiramente pensar — sempre exigiu mais do que eficiência: exigiu coragem, tempo e uma dose de silêncio.
ATENÇÃO – O conteúdo dos artigos é de responsabilidade do autor, expressa sua opinião sobre assuntos atuais e não representa a visão da Universidade de Brasília. As informações, as fotos e os textos podem ser usados e reproduzidos, integral ou parcialmente, desde que a fonte seja devidamente citada e que não haja alteração de sentido em seu conteúdo.