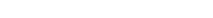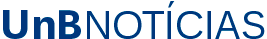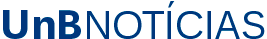Zuleide Oliveira Feitosa
O “Amarelo” do Maio, em termos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), simboliza uma das principais regras do trânsito. Indica que a atenção da pessoa deve estar em alerta e voltada para as regras de funcionamento do trânsito durante o tempo em que se está deslocando pelas vias de uma cidade. A campanha de conscientização no trânsito Maio Amarelo nasce de uma iniciativa da Organização Mundial de Saúde (OMS) em 11 de maio de 2011, que objetiva uma década de ação para a segurança no trânsito.
Após 14 anos de existência O Maio Amarelo se consagra como a primeira iniciativa mundial a se importar de maneira enfática com as mortes e acidentes graves no trânsito. Também o dia mundial em memória das vítimas de acidentes no trânsito, que acontece no 3º domingo de novembro, é uma política mundial que foi criada antes do Maio Amarelo (1995) e que visava a busca de sensibilização da sociedade para os impactos devastadores que a imprudência no trânsito pode causar.
No Brasil têm-se as políticas: Dia Nacional da Paz no Trânsito, que acontece em 21 de abril, e a Semana Nacional do Trânsito, que se realiza entre 18 e 27 de setembro. Além do mais, a Lei nº 15.006 de 2024, recentemente sancionada pelo Presidente da República, criou o Dia Nacional do Motociclista, dia 27 de julho, e a semana que compreende essa data será a Semana Nacional da Prevenção de Acidentes com o Motociclista. Inclui-se também o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans).
O Pnatrans foi criado 2018, pela Lei nº 13.614, que acrescenta o art. 326-A ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O objetivo é orientar os gestores de trânsito para implementarem ações que convirjam com a redução de mortes e lesões no trânsito, seguindo o alinhamento estabelecido pela Organização das Nações Unidas (ONU). O Pnatrans foi revisado e implementado pelo Ministério dos Transportes em 2023. Entretanto, não obteve o sucesso desejado, pouco mais da metade dos Detrans, 15 estados brasileiros, estabeleceram a parceria de adoção da referida política.
Diante dos atuais esforços da gestão pública federal questiona-se, por que os Detrans dos 11 estados restantes, principalmente as regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, resistiram em apoiar a política que se propõem a salvar vidas? Quando estes são os estados com maior índice de mortalidade no trânsito! Examinemos as estatísticas, em 2023 o Tocantins lidera o ranking, com 33,9 mortes, seguido por Mato Grosso (27,1) e Piauí (25,9). Na outra ponta, o Amapá tem a menor taxa: 9,7 mortes por 100 mil habitantes dia relatório do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Assim, as taxas de mortalidade por 100 mil habitantes variam amplamente entre os estados. Por essas razões, não é compreensível o porquê de os gestores públicos dos referidos estados não terem se movimentado para reunir esforços no combate à violência no trânsito.
Ainda que a história venha a se inclinar em direção à realidade da violência no trânsito brasileiro, ela atravessa o tempo. E a travessia do tempo revela a complexidade que permeia a mobilidade e o desenvolvimento das cidades. A mobilidade é condição essencial para o ir e vir dos indivíduos. A urbanização é consequência da mobilidade destes. Por exemplo, desde o século 4.330 a.C. registra-se que a Mesopotâmia inicia seu primeiro passo do estado rural para o desenvolvimento urbano. Assim nasce o conceito de cidade. Nesse caminho, a cidade vai delineando sua autonomia e criando seus contornos, suas normas, suas regras de circulação viária, afim de organizar os movimentos das pessoas dentro dos acessos, vias e ruas. E assim nasce o conceito de trânsito.
Nessa perspectiva, o trânsito comporta bem o conceito de mobilidade, visto que mover-se de um ponto A para um ponto B com objetivo de chegar a algum lugar é o que caracteriza a mobilidade, mas quando pensamos em termos de organização espacial, regras e normas, veículos e pessoas se movendo, damos de encontro com o conceito de trânsito. Seguindo nessa reflexão, uma vez que o trânsito acontece em função de uma mobilidade, é simples perceber que a mobilidade é um atributo muito anterior ao conceito de cidade. No entanto, as cidades têm evoluído muito mais rápido do que a mobilidade. Esta constatação é simplória, mas provocativa.
Se de um lado a urbanização implica diretamente na necessidade de criar regras sociais para organizar seu trânsito, por outro, a civilidade para obediência às regras não tem se projetado com prontidão para inibir comportamentos de violação das normas e regras que organizam o trânsito. Uma constatação recente, por exemplo, data de 2023 a 2024. O número de 34,8 mil mortes no Brasil não deve passar despercebido, uma vez que a meta global da Organização das Nações Unidas (ONU) é a redução de morte no trânsito de até 50% até 2020.
Além do mais, a análise prévia dos últimos dez anos da história do trânsito no Brasil identificou em torno de 400 mil mortes e 300 mil acidentes graves. Em resumo, são 700 mil pessoas na fase adultos jovens e adultos que estão fora de das suas famílias, fora das suas realizações e fora da pirâmide econômica produtiva do Brasil. Eles foram violentamente subtraídos das suas vidas. Não sofremos só as perdas afetivas, materiais e econômicas. Sofremos o descaso da gestão pública, são 3,8 bilhões gastos com vitimais de acidente no Brasil.
Mais um indicador que corrobora o descaso da gestão pública são os dados Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Os dados revelam que a queda no número de mortes e acidentes graves no Brasil não estabelece relação significativa com as campanhas educativas esporádicas e a fiscalização periódica realizada pela gestão pública. O motivo da queda no número de acidentes fatais e acidentes graves é devido a uma desaceleração na economia (Taxa de mortes no trânsito está associada ao desenvolvimento econômico - Ipea). Cai o volume de atividades laborais, cai o volume de mortes no trânsito.
A situação é mais delicada quando se enxerga bem de perto, por exemplo, as campanhas como o Maio Amarelo e a Semana do Trânsito, em setembro, que vigoram no panorama brasileiro como um fio de esperança por parte daqueles que ainda estão dotados de boa fé e comoção pela vida humana. Apesar de que estas mesmas iniciativas constam apenas como protocolo a ser executado pelas entidades públicas.
As Secretarias de Mobilidade e Trânsito Municipal, a Senatran, os Detrans, a Polícia Rodoviária Federal, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) são exemplos de órgãos competentes para educar, advertir e punir os cidadãos que participam diretamente do acontecimento do trânsito. As campanhas para um trânsito seguro de abrangência Nacional estão sob a regência direta destes órgãos. Entretanto, tais campanhas, mesmo que bem intencionadas, de longe surtem o efeito estimado que se supõem ter. visto que o volume dos acidentes continua crescente e o número de mortes também.
Observa-se que na travessia do tempo muito se perdeu e pouco se ganhou quando o tema a ser refletido é o quantitativo de mortes fatais e acidentes graves no trânsito urbano brasileiro. Parece óbvio que os números de mortes e acidentas fatais registrados ao longo dos dez últimos anos, e no ano de 2023 a 2024, por si mesmo serviriam para sensibilizar nossos gestores. Entretanto, o descaso pela vida humana parece continuar.
É pertinente lembrar que o trânsito acontece em um ambiente socialmente construído, onde existe normas e regras a serem seguidas. As pessoas que se deslocam pelas vias ou estão andando a pé, de bicicleta ou utilizando um veículo automotor, aparentemente não saem de suas casas com o propósito de serem mortas de maneira súbita. No entanto, essa variabilidade de alternativas para transitar está diretamente relacionada aos potencias conflitos geradores de acidentes graves e óbitos.
Dessa maneira, não é suficiente saber que o trânsito é dinâmico e oferece várias situações de conflito. Que os conflitos potencializam as possibilidades de ocorrência de acidentes e por isso os participantes do trânsito estão imbuídos de responsabilidade para com o outro. Para que a segurança viária se torne uma realidade diária nas nossas cidades é indispensável ao individuo compreender que o espaço público é dotado de normas e regras. Que o trânsito só transcorrerá de maneira a promover segurança se nos comportarmos como seres sociais. Portanto, a convivência no trânsito é pacífica se cada comportamento for pacificado.
As ações educativas, de advertência e punitivas são as principais medidas para mudar o curso dos velhos hábitos e formar novos, afim de proporcionar convivência social pacífica no trânsito. As campanhas são importantes, necessárias e indispensáveis, mas de maneira isoladas como atualmente se faz, elas não produzem efeitos duradouros. As estatísticas ora mencionadas servem para corroborar a tese de que já não podemos mais suportar a expressiva violência de um trânsito que tira vidas.
Clique aqui para ler o artigo na íntegra.
ATENÇÃO – O conteúdo dos artigos é de responsabilidade do autor, expressa sua opinião sobre assuntos atuais e não representa a visão da Universidade de Brasília. As informações, as fotos e os textos podem ser usados e reproduzidos, integral ou parcialmente, desde que a fonte seja devidamente citada e que não haja alteração de sentido em seu conteúdo.