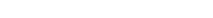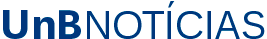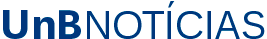Ana Cláudia Farranha e Tatiana Dias Silva
Tempos de pandemia. Fique em casa. João Pedro estava em casa. Ágatha estava com a mãe. Amarildo era trabalhador. Cláudia Ferreira, mãe de família. Nada disso os poupou da morte. Eram negros. Moravam em comunidades pobres, muito embora o racismo não discrimine CEP.
Somente a cor de suas peles já aumentaria a chance de serem assassinados. Segundo o Atlas da Violência, em 2017, havia 2,7 negros assassinados para cada homicídio de não negro no Brasil (considerando as proporções populacionais). Entre 2007 e 2017, a taxa de homicídios de negros cresceu 33,1%. Para os não negros, a taxa se elevou em 3,3% (estudo do IPEA e Fórum Brasileiro de Segurança Pública). Quando essas mortes negras ganham as telas da TV, o desenrolar dos enredos é bem conhecido. Em meio ao desespero, dor e luto, promessas de investigações intestinas, às vezes passeatas, às vezes declarações ou notas de repúdio. A maioria não tem nada disso e nem mesmo inicia-se uma investigação que vai ser arquivada. Se tiver algum envolvimento com crime, passado, presente, suspeita ou mesmo parentesco, não serão poucos que festejarão a pena de morte à brasileira. E nem saímos do estado de incredulidade, já mataram outro preto.
Embora façamos um esforço grande para não naturalizar esse estado de horror, tem-se uma rotina de silêncio, de morte, de dor que perdura desde sempre. O silêncio é estrutural, tal qual o racismo que o abastece. Este silêncio é negociado dia a dia, no desprezo pelo outro, pela negação, ridicularização, na exposição animalesca do outro. Se sua estética, conhecimentos, religiosidade, hábitos, nada nos serve, já não é um de nós. Se sua figura só pode protagonizar as funções subalternas, as manchetes criminais e os indicadores de vulnerabilidade, são distantes e distanciados, não são espelho, já não são um de nós. O outro é desumanizado a ponto de não merecer mais nada, nem a vida. Viver é privilégio; em "paz", biscoito fino. Se a origem desse imaginário veio com a escravização de seres humanos, ele se atualiza a cada dia, em tantos outros mecanismos, pela tentativa de embranquecimento, pelo desprezo a nossos traços, nossa história, nossa sabedoria e depois pela negação da negação. Aí o problema é de quem vê racismo em tudo. Quem tem a pele preta não tem nem o direito de se alienar. Pode até achar que pode, mas aí vem a piada, a barreira, o elevador, o "onde está o médico?", as ausências e até um tiro, ou 70, ou 80, e duas granadas.
Às vezes são adultos, às vezes são adolescentes ou crianças. Homens, mulheres. Uma dor que paira sobre as famílias negras. Um silêncio absoluto, por parte do Estado, escancarado por cada uma dessas famílias.
As perguntas que podem acompanhar essas notícias são: porque corpos pretos são maioria entre os mortos? Quais as "instruções" que autorizam tais mortes? Que paradigmas de "gestão" informam essas práticas. Essas linhas são uma tentativa de apontar como os elementos do racismo institucional, que não estão escritos em códigos e normas formais, reportam uma visão sobre qual o lugar dos negros na sociedade brasileira e como são tratados na esfera pública, principalmente, no que concerne à abordagem policial.
Clique aqui para ler o artigo na íntegra
_________________________________________
Publicado originalmente em Estadão Online SP em 1/6/2020
ATENÇÃO – O conteúdo dos artigos é de responsabilidade do autor, expressa sua opinião sobre assuntos atuais e não representa a visão da Universidade de Brasília. As informações, as fotos e os textos podem ser usados e reproduzidos, integral ou parcialmente, desde que a fonte seja devidamente citada e que não haja alteração de sentido em seu conteúdo.